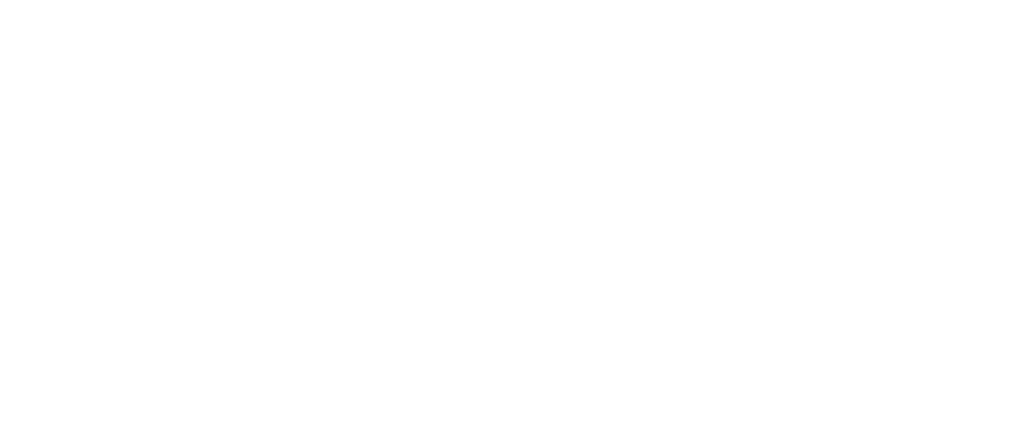Fui criado em uma família socialmente conservadora, patriótica e muito tradicional, da qual meus avós eram os chefes. Eles incutiram em mim o que chamariam de “valores britânicos”, e estes me guiaram durante grande parte da minha vida.
Cresci durante as décadas de 1960 e 1970 sabendo que era um rapaz “mestiço”, nascido em uma família da classe trabalhadora em Devon, uma área quase inteiramente branca. Aos poucos, minha criança percebeu que, devido às reações de alguns adultos, ter um pai de outro país – especialmente um povoado por pessoas pardas – me marcou como sendo incomum, talvez muito diferente. Não me senti diferente, mas tomei consciência de que outros poderiam me ver como tal.
Geralmente, as pessoas eram tolerantes, embora houvesse exceções. Na década de 1980, o pai de uma namorada recusou-se a me receber em sua casa, afirmando que “não aceitaria um negro na mesa”. Da mesma forma, um senhorio, com quem eu estava em disputa, disse-me que iria informar a polícia para “mandar-me deportar”. Não estava claro para onde eu poderia ser deportado… Devon, talvez? Parecia certamente que a regra da “gota única” (de sangue não-branco) do racismo antiquado ainda exercitava as mentes de alguns britânicos naquela época.
Isto, para mim, resume a realidade daquilo que chamávamos de “raça” na Grã-Bretanha na época, e talvez ainda o faça hoje. Não se tratava tanto de como alguém se sentia ou do que constituía o sentido de individualidade de alguém. Tratava-se de como os outros interpretavam um indivíduo – a cor da sua pele, os seus valores, o seu sotaque e a sua ascendência. Eu tinha pele morena, sotaque inglês e um conjunto convencional de valores básicos, então foi o conhecimento dos outros sobre minha ascendência que me definiu como “mestiço”. Embora eu tenha “passado” (para tomar emprestado o léxico do pensamento racial) como branco para estranhos, aqueles que conheciam a minha família tinham outro conjunto de dados para classificar a mim e a pessoas como eu – se assim o decidissem. No entanto, apesar das opiniões dos outros, eu era, pelo menos na minha opinião, completamente britânico e mergulhado na cultura, na história e na língua britânicas, tal como os meus amigos.
‘Raça’, império e classe
“Raça”, como explicou o teórico cultural Stuart Hall, é um “significante flutuante”. Os significados que atribuímos ao conceito mudaram constantemente ao longo dos últimos quatro séculos, à medida que as atitudes e a sociedade mudaram. Em alguns períodos da nossa história, a “raça” teve pouco significado nas interações sociais cotidianas. Noutras alturas, porém, as características “raciais” adquiriram significados que tiveram um impacto enorme, e muitas vezes desastroso, nas vidas humanas, desde o comércio transatlântico de escravos até ao Holocausto.
Muitos historiadores da Grã-Bretanha moderna argumentariam, com razão, que o Império Britânico teve um impacto igualmente significativo no pensamento racial no Reino Unido. Esta observação é apoiada pelos muitos documentos sobreviventes produzidos pelos responsáveis pela administração do Império. Estes mostram que o processo de ver, categorizar e atribuir valor hierárquico às populações colonizadas foi essencial para a manutenção do Império, que no seu auge abrangia quase um quarto da população mundial.
Diante disto, como deve ter sido a vida para o pequeno número de colonos não-brancos na Grã-Bretanha durante a primeira metade do século XX, para não mencionar as suas esposas brancas ou os seus filhos “mestiços”, que nasceram e foram criados aqui em cima?
Foi certamente uma época de conflitos e crises econômicas, políticas e morais em toda a Europa no início do século XX. Além disso, o fascismo estava em ascensão e as teorias racistas e eugenistas da sociedade floresciam. A Grã-Bretanha não foi exceção. Teve o seu próprio movimento fascista na forma da União Britânica de Fascistas de Sir Oswald Mosley. Estes bandidos uniformizados, os chamados Camisas Negras, eram famosos durante as décadas de 1920 e 1930 por marcharem pelos distritos da classe trabalhadora. Os historiadores de hoje tendem a ver os Camisas Negras como sintomáticos das tensões racialmente carregadas do período entre guerras.
Assim, poder-se-ia supor que a chegada do “estranho sombrio” não-branco durante o início do século XX – a maré alta do Império Britânico – teria provocado uma resposta franca e violenta por parte dos bairros da classe trabalhadora. No entanto, como descobri enquanto pesquisava para meu novo livro, Imperial Heartland , esse não era o caso. Olhando em particular para a área de Sheffield nas primeiras décadas do século XX, descobri que as pessoas não-brancas, muitas delas muçulmanas e sikhs do sul da Ásia, viviam pacificamente em comunidades da classe trabalhadora. E as evidências indicam fortemente que isto foi replicado em várias outras cidades e vilas industriais britânicas.
As certidões de casamento da época, que registam uniões entre nativos e recém-chegados, não só fornecem prova da presença desta pequena população do sul da Ásia em Sheffield no período entre guerras – também nos fornecem uma visão antecipada do estado do que viria a ser conhecido como “relações raciais” nas cidades e vilas industriais da Grã-Bretanha. A presença destes recém-chegados transgrediu os padrões imperiais de diferença e separação racial. Além disso, estes indivíduos e famílias enraizaram-se nos bairros da classe trabalhadora de Sheffield. Lá eles ganhavam a vida, cuidavam das suas famílias e participavam plenamente na vida lotada, barulhenta e unida destas comunidades partilhadas.

É verdade que nos anos tumultuados social e economicamente após a Primeira Guerra Mundial ocorreram distúrbios violentos ocasionais. No entanto, as interações quotidianas entre nativos e recém-chegados – como cônjuges, sogros, colegas de trabalho e vizinhos – dizem-nos algo importante. Nomeadamente, que as reações dos nativos de Sheffield a estes imigrantes estavam longe de ser hostis. Na verdade, as classes trabalhadoras (na sua maioria) brancas envolveram-se em relações interétnicas amigáveis e cooperativas.
A hostilidade para com os recém-chegados veio de outros lugares – principalmente, dos reacionários imperiais e dos progressistas de classe média, com mentalidade reformista.
Na época, a ideia de mistura inter-racial (especialmente entre homens e mulheres) era vista com grande preocupação pelos administradores imperiais. Eles temiam que isso pudesse minar o prestígio e o poder dos brancos nas colônias. Os progressistas, incluindo muitos dos principais socialistas fabianos, também estavam preocupados. Em linha com a sua adoção de teorias “científicas” e eugenistas da raça, as classes médias reformistas queriam manter a “higiene racial” na Grã-Bretanha. Eles temiam que a “miscigenação” entre povos não-brancos ou da Europa Oriental com britânicos brancos (e o nascimento de crianças “mestiças” nos subsequentes casamentos mistos) causasse um enfraquecimento da “raça britânica” e minasse a sua capacidade de manter e defender o Império.
Os progressistas, os socialistas e os imperialistas declarados estiveram, portanto, unidos no escrutínio e na crítica das escolhas de vida das pessoas da classe trabalhadora, desde com quem casaram até com quem tiveram filhos. No entanto, apesar destas tentativas das elites culturais e políticas de estigmatizar os casamentos mistos e retratar os seus filhos como párias raciais, muitas relações parecem ter perdurado. E isso deveu-se à sua aceitação generalizada pelas famílias, vizinhos, colegas de trabalho e amigos da classe trabalhadora.
A vida no coração imperial
A partir da segunda metade do século XIX, todas as pessoas nascidas nas possessões coloniais britânicas tinham formalmente direito a igual proteção ao abrigo da lei britânica. Isso se seguiu ao esboço do princípio imperial da Civis Britannicus Sum por Lord Palmerston ao parlamento em 1850. Baseando-se no princípio Civis Romanus Sum do Império Romano (ao qual todos os impérios europeus se comparavam), Palmerston argumentou que todas as pessoas dentro das fronteiras do Império Britânico eram súditos do Rei Imperador. Doravante, foi amplamente aceito, por razões de boas relações imperiais e da imagem global da Grã-Bretanha, que (pelo menos em teoria) os indianos, como súditos britânicos, tinham o direito de viver e trabalhar na Grã-Bretanha. As suas esposas não podiam, portanto, ser despojadas do seu estatuto de súditas britânicas, ao contrário daquelas mulheres que se casavam com homens de fora do Império. Isso também eliminou a possibilidade de homens do sul da Ásia se casarem com britânicos com a motivação principal de adquirir o status de súditos britânicos. Apesar de tudo, os esforços globalizantes do Império Britânico proporcionaram aos seus súditos os meios, as oportunidades e o estatuto jurídico para migrarem e estabelecerem-se com sucesso no coração imperial.
O inicialmente pequeno assentamento de homens do sul da Ásia em Sheffield era composto principalmente por ex-Lascars (marítimos asiáticos) que haviam sido originalmente recrutados pela indústria naval mercante britânica. Eles trabalharam nas indústrias pesadas da cidade durante a Primeira Guerra Mundial e sua colonização foi reforçada durante os anos entre guerras. Os primeiros casamentos com mulheres locais ocorreram a partir de 1918. Os agregados familiares destes casamentos mistos funcionaram frequentemente como pontos de ancoragem para cadeias de migração para a Grã-Bretanha para os parentes e compatriotas dos maridos. Este não foi um plano coletivo consciente. Foi simplesmente o caso de famílias individuais que se esforçavam para ter uma vida melhor para si mesmas.

Ao contrário da era Jim Crow na história dos EUA, a discriminação racial na Grã-Bretanha era informal e não legal. As exceções a isto foram os artigos asiáticos que regem o emprego de marítimos indianos nos portos asiáticos. Eles impuseram condições de trabalho mais precárias e salários muito mais baixos para os Lascars em comparação com os marítimos europeus. Os artigos foram um fator importante que levou os Lascars a abandonar o navio na Grã-Bretanha. Estes marítimos do Sul da Ásia, agora baseados em portos de origem britânicos, poderiam embarcar em navios nas mesmas condições que os europeus. Muitos também optaram por deixar o mar para trabalhar em indústrias não marítimas, onde recebiam os mesmos salários que os outros trabalhadores.
Enquanto as elites imperiais da Grã-Bretanha, apoiadas por diversos progressistas, promoviam a divisão e a separação racial, nas comunidades predominantemente da classe trabalhadora, os nativos e os recém-chegados misturavam-se alegremente diariamente. As evidências, recolhidas tanto a partir de dados do censo como de testemunhos orais de filhos de casamentos mistos, mostram que os recém-chegados do Sul da Ásia alojaram-se em famílias brancas da classe trabalhadora. Por outro lado, os trabalhadores brancos também se alojaram em domicílios de casais em casamentos mistos. Os trabalhadores partilhavam os espaços íntimos do lar, todos “se divertindo” juntos no trabalho e como vizinhos. Estes não são certamente os tipos de comportamento que se esperaria de pessoas focadas na manutenção da separação racial. Com base nesta evidência, é justo afirmar que os primeiros imigrantes passaram pelo menos tanto tempo com os britânicos nativos como com os seus compatriotas.
A julgar pelas listas de ocupação, outras acomodações, como pensões comerciais e hotéis de baixo custo, também parecem ter sido racialmente integradas, com nativos brancos e recém-chegados não-brancos partilhando instalações. A distribuição dos endereços residenciais dos sul-asiáticos e das suas famílias na área de Sheffield também mostra que não estavam confinados a enclaves étnicos ou guetos. Em vez disso, construíram as suas casas em muitas áreas da classe trabalhadora, incluindo num novo conjunto habitacional municipal construído pela autoridade local.
Com o tempo, as redes sociais dos homens do Sul da Ásia tornaram-se cada vez mais confusas. Eles incluíam suas esposas da classe trabalhadora, sogros, amigos brancos, colegas de trabalho e vizinhos. As suas redes espalham-se por todo o país e internacionalmente através de ligações contínuas com a navegação marítima e o mar. Estas redes sociais mostram que o nível de mistura interétnica não estava, de forma alguma, confinado à área de Sheffield. Estas redes permitiram uma maior imigração de parentes e compatriotas e incentivaram a integração de britânicos nativos e de recém-chegados.
Um número significativo de homens eram migrantes econômicos temporários e não colonos e estão muito menos registados nos registos sobreviventes. Eles planejavam trabalhar na Grã-Bretanha por cerca de cinco anos, enviando dinheiro regularmente para suas famílias na Índia antes de finalmente voltarem para casa. Como pequenos agricultores rurais e arrendatários, o dinheiro era escasso. Tornar-se proletário na Grã-Bretanha, mesmo que temporariamente, significava que podiam pagar dívidas a agiotas, ampliar terras agrícolas, construir edifícios e cavar poços. Este estilo de vida transitório e frugal de “apenas por cinco anos” – também conhecido como “o mito do regresso” – dominaria a vida daqueles que seguiram os seus passos depois de 1945.
Na década de 1930, espalharam-se notícias nas aldeias de Punjab, Caxemira e Sylhet de que era possível ganhar uma vida decente na Grã-Bretanha. Um número crescente de homens rurais do sul da Ásia (ou “índios mesquinhos da classe agrícola”, como um alto funcionário público os chamou com desdém na época) viajou para a Grã-Bretanha de navio, com passagem paga por seus parentes, na prática consagrada pelo tempo de aventura, jovens que partem em busca de fortuna. Como passageiros, e não como marítimos, a sua migração foi mais tarde refletida pela chegada do Empire Windrush em 1948 e de muitos milhares de trabalhadores migrantes paquistaneses e sikhs na era do pós-guerra.
A Segunda Guerra Mundial acelerou a imigração de não-brancos para a Grã-Bretanha através da Marinha Mercante. Muitos navios tripulantes da Lascar que enfrentavam as rotas da Índia para a Grã-Bretanha e através do Atlântico ficaram presos na Grã-Bretanha depois que seus navios foram afundados por submarinos alemães. Enquanto alguns embarcaram novamente e continuaram navegando, outros procuraram trabalho na indústria pesada, engenharia e fabricação de armamentos. Aqui vemos uma continuidade da migração e da colonização durante as guerras mundiais e o período entre guerras. Diz-se que os assentamentos do sul da Ásia, como o de Bradford, foram fundados nesta época.
Tensões raciais nos portos
Porque é que Sheffield foi muito mais tolerante do que algumas áreas durante os anos entre guerras, como as cidades portuárias de Liverpool, Cardiff e Hull? Esta é uma questão complexa, mas certos fatores parecem ter desempenhado um papel significativo. Em Sheffield, os empregos – especialmente na indústria siderúrgica – eram mais estáveis e de longo prazo, e a concorrência por eles não era tão intensa como nos portos. A indústria marítima, por outro lado, dependia em grande parte de diaristas ocasionais para o trabalho portuário, e o recrutamento de marítimos não era bem regulamentado. Os comandantes dos navios muitas vezes preferiam um grupo racial a outro para trabalhar em departamentos específicos do navio, excluindo assim outros em termos raciais. A multidão de potenciais recrutas para estes cargos nos estaleiros dos escritórios de navegação serviu apenas para realçar as diferenças raciais e o aparente favoritismo. A competição entre os trabalhadores era feroz numa época em que o asilo aguardava aqueles que não conseguiam sobreviver.
Em Fevereiro de 1921, Sheffield, no meio de uma profunda crise econômica em que milhares de pessoas foram despedidas, sofreu um breve motim racial. Tudo terminou muito rapidamente com a pronta intervenção da polícia. O elemento racial da perturbação foi rapidamente esquecido e os homens do sul da Ásia vítimas da hostilidade ainda se estabeleceram no distrito. Alguns até se casaram lá.
A situação era diferente nos portos de orientação imperialista. A polícia estava disposta a recuar e deixar que os distúrbios raciais saíssem do controle. Às vezes, eles até pareciam tolerar a violência. A imprensa local culpou o “problema” da mistura inter-racial, publicando um fluxo constante de artigos denunciando a “miscigenação”. Os jornais de Sheffield não se envolveram neste tipo de editorial sobre raça. Na verdade, na sequência do motim de 1921, a imprensa local destacou imediatamente que os homens do Sul da Ásia eram bem vistos pelos brancos da vizinhança.
Guetos do pós-guerra
Como mostra a experiência de Sheffield, a migração e fixação bem sucedidas de sul-asiáticos na Grã-Bretanha lançou as bases para uma maior imigração de trabalhadores sul-asiáticos na era pós-Segunda Guerra Mundial. Na verdade, os distritos de origem de muitos dos primeiros colonizadores, como Attock e Jhelum no Punjab, Mirpur na Caxemira e Sylhet (agora em Bangladesh) permaneceram durante muito tempo importantes fontes de migração para a Grã-Bretanha. Não é por acaso que todas eram originalmente áreas de recrutamento de Lascars pela Marinha Mercante Britânica.
Com o rápido aumento da migração para o Sul da Ásia durante o boom do pós-guerra, ocorreram mudanças significativas na vida dos recém-chegados. As redes sociais locais e nacionais e um quadro cultural de acompanhamento já tinham sido estabelecidos pelos pioneiros do início do século XX. Assim, o mesmo espírito de aventura e a vontade de adaptação às circunstâncias e à cultura locais já não eram mais exigidos dos recém-chegados no mesmo grau.
Durante a década de 1950, Attercliffe, o distrito siderúrgico de Sheffield, já programado para ser demolido pelas autoridades locais, rapidamente se tornou um enclave étnico para trabalhadores do sul da Ásia e árabes. Os etnógrafos contemporâneos, que estudaram o processo de formação de enclaves, observam que este não foi inicialmente um produto da guetização racialmente imposta. Pelo contrário, era o desejo de um grande número de jovens trabalhadores solteiros do sexo masculino viverem de acordo com o “mito do retorno”. Isso significava viver da forma mais frugal possível, muitas vezes em estilo dormitório – em acomodações baratas e degradadas. Na verdade, o mito do regresso, que se encontra como narrativa social entre muitas populações expatriadas (como os britânicos na Índia ou em Hong Kong, ou os “trabalhadores convidados” turcos na Alemanha), serve para manter um certo grau de separação entre os imigrantes e os da nação anfitriã, unindo os recém-chegados num ambiente temporário e estranho. O mito protegia os costumes e práticas nacionais da influência estrangeira e impedia que indivíduos entre eles se “tornassem nativos” (como os colonos britânicos no Extremo Oriente descreveram os britânicos que se tornaram demasiado apegados às culturas asiáticas). Tal como os trabalhadores imigrantes em todo o mundo, o mito permitiu aos homens que viviam na Grã-Bretanha suportarem condições precárias e preservarem os seus laços de cultura e parentesco, ao mesmo tempo que poupavam tanto dinheiro quanto possível antes de regressarem a casa – embora muitos acabassem por permanecer aqui durante o resto da suas vidas.
As décadas de 1950 e 1960 testemunharam um endurecimento das atitudes raciais entre muitos britânicos, ativamente alimentado pela amargura e desencanto das antigas elites imperiais. Durante três séculos, o seu prestígio e propósito basearam-se no controle de um império agora em rápido encolhimento. A presença na Grã-Bretanha daqueles que governaram recentemente apenas os lembrou da sua perda. A nível nacional, desenvolveu-se uma atmosfera cada vez mais tóxica em todas as classes sociais devido ao ressentimento relativamente ao declínio do prestígio global da Grã-Bretanha, à diminuição ou desaparecimento das indústrias tradicionais e à ansiedade relativamente às rápidas mudanças culturais. A crescente aceitação do racismo manifesto como uma característica aceitável da vida empurrou as velhas formas de conviver de forma bastante tolerável, partilhando espaços públicos e privados, para o reino desbotado da memória.

Para ilustrar a natureza mutável das atitudes raciais ao longo dos anos, um entrevistado, que chegou à Grã-Bretanha vindo de Caxemira na década de 1960, disse-me que se lembrava de ter sido bem tratado pelos habitantes de Sheffield, apesar das tensões crescentes noutros locais (uma opinião repetida por muitos homens do Sul da Ásia da mesma idade). Seu filho, que cresceu na década de 1980, expressou sua descrença com a afirmação do pai, tendo vivenciado o racismo como uma característica constante em sua juventude.
Uma visão distorcida do passado e do presente
Esta lacuna entre as experiências de pai e filho sugere que Hall estava certo ao chamar a raça de “significante flutuante”. Embora os seus significados mudem ao longo do tempo, em resposta a muitos fatores externos, a raça ainda assombra a nossa imaginação. Dito isto, seria um erro aceitar a afirmação de que o racismo na Grã-Bretanha está sempre presente e é tão grave como sempre foi, tal como é um erro afirmar que o racismo tem sido uma presença constante e dominante entre as classes trabalhadoras em todo o mundo no século XX e no século XXI. No entanto, estas afirmações têm sido constantemente feitas por muitos comentadores culturais e políticos que torcem as mãos por causa da “intolerância” da classe trabalhadora, da sua “xenofobia” enraizada e da sua aparente insistência no patriotismo. Este foi especialmente o caso durante o referendo do Brexit, e continua até hoje. Muitos especialistas insistem que estamos a assistir a uma repetição da década de 1930 e que “a história está a repetir-se”. A sua imaginação de pesadelo obscurece uma imagem muito mais complicada, matizada e por vezes muito positiva das relações raciais na Grã-Bretanha ao longo do século passado.
A nossa visão das relações interétnicas no passado é muitas vezes distorcida pelas nossas preocupações atuais. Muitas vezes ignoramos as interações quotidianas entre nativos e recém-chegados em favor dos extremos dos tumultos e da desordem. Igualmente importante, ignoramos os casos históricos em que a imigração, a colonização e a integração funcionaram bem para todos os envolvidos… e quando não funcionaram. Em parte, isto deve-se a uma tendência para nos definirmos como sendo mais “progressistas” e “iluminados” do que as pessoas do passado, que assumimos estarem todas agressivamente preocupadas com as diferenças raciais. Ao fazê-lo, acontecimentos como os motins raciais do início do período entre guerras aparecem-nos como representativos das atitudes da maioria.
Os historiadores frequentemente veem o passado através de fontes como jornais ou documentos oficiais. A mídia noticiosa, no entanto, só divulga o que é interessante. Da mesma forma, os funcionários tendem a registar apenas o que foram considerados problemáticos para eles próprios. Pessoas que se dão bem são consideradas banais demais para chegar às manchetes ou serem registradas pelas autoridades. Embora necessário como parte do ofício do historiador, usar essas fontes como único foco obscurece as interações cotidianas das pessoas. E pode, involuntariamente, fornecer uma base para narrativas simplistas sobre o racismo ser uma característica natural e definidora da vida na Grã-Bretanha durante séculos.
Como mostra o caso de Sheffield, o passado é muito mais complexo e cheio de nuances do que sugerem as narrativas moralistas atuais sobre ele. Não estamos hoje a ver “a história repetir-se” ou uma reprise da década de 1930. A tentativa de apresentar o passado desta forma simplista permite que uma pequena minoria de pessoas retrate as diferenças “raciais” como obstáculos intransponíveis.
Tudo isto presta um enorme desserviço ao passado – e ao presente.
David Holland é um historiador independente com formação acadêmica e mora em Sheffield. Seu último livro, Imperial Heartland – Immigration, Working-class Culture and Everyday Tolerance, 1917–1947 , foi publicado pela Cambridge University Press.