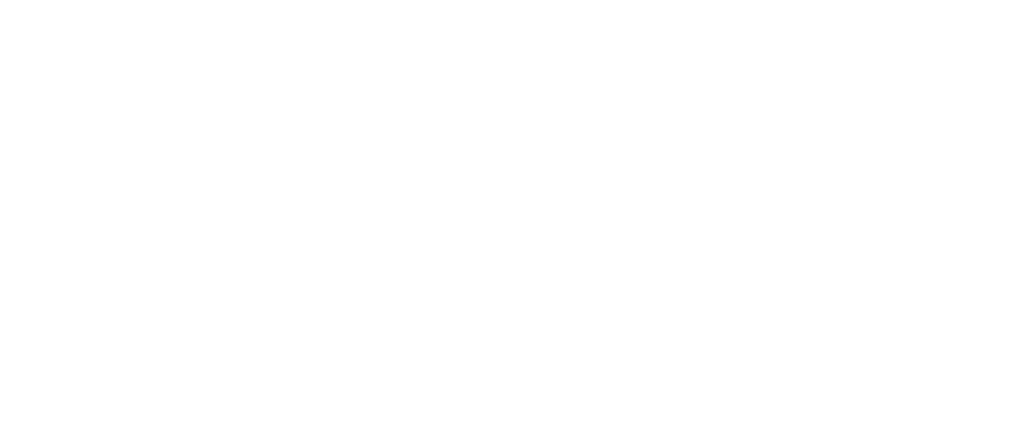Nota do editor: Não é segredo para ninguém que somos ávidos leitores de Paula Schmitt. Cada dia que passa, nos aproximamos mais e mais da obra desta jornalista e sempre nos surpreendemos positivamente. O artigo abaixo data de 2014, e segundo apuramos (e a autora confirmou) o cenário só deteriorou.
O que nos trouxe até este artigo, publicado na 972 Mag, enquanto a autora trabalhava no Oriente Médio, foi ter lido este outro texto que chama a atenção para a fundamental importância dos seres humanos olharem para outros seres humanos.
Como não temos o menor interesse em pintar o mundo em preto e branco, ou bater palmas para quem assim o pinta, fazemos questão de, junto com a extensa cobertura oriunda da visão israelense, lembrar que os árabes que vivem na Palestina são tão humanos como nós.
Como tem sido de praxe, e para conter os sempre afoitos, nossa empatia não se mistura nem um milímetro com o terrorismo.
Se a sua se confunde, rezaremos por você também.
______________________________________________________________
Há algo de quase cruel em perguntar a um refugiado palestino se ele aceitaria viver pacificamente com Israel caso algum dia lhe fosse permitido regressar. Parece um exercício sádico: tratar um homem como um ser humano inferior, negar-lhe um país, uma casa, uma profissão, mantê-lo confinado durante anos e, uma vez libertado, esperar que ele se levante, espane a humilhação das suas roupas e aperte as mãos de seu algoz.
Os refugiados palestinos com quem falei não estão dispostos a apertar a mão dos seus captores – pelo menos não se outro palestino estiver a observar. O orgulho é a última coisa que ainda possuem, a tenacidade típica de quem não tem nada a perder por um lado e nenhuma esperança de ganhar nada por outro. Mas o que aprendi quando as conversas se tornaram privadas é que muitos desses refugiados gostariam apenas de viver em paz com dignidade e, para isso, estão dispostos a conceder um perdão que nunca lhes foi pedido. Na verdade, pressionados por mil hipóteses de restituição, reconhecimento de culpa e pedidos de perdão, quase todos os palestinos com quem falei, estão prontos a apertar aquela proverbial mão e finalmente começar uma vida que se manteve suspensa desde que nasceram.
Filhos-propaganda de sua tragédia
“Se houver paz, sou a primeira pessoa disposta a regressar”, diz Adnan Abu-Dhubah, de 75 anos, cuja determinação parece instável na vara de madeira que usa como bengala. A vara não tem cabo e, com o peso do corpo, a palma da mão fica marcada com um ferimento quadrado. Abu-Dhubah conheceu pouco mais do que a vida num campo. Ele é um dos 30 mil refugiados no campo de Gaza em Jerash, na Jordânia, que vive em condições precárias, andando diariamente na lama e no esgoto. Como a maioria das pessoas pobres, o Sr. Abu-Dhubah parece mais velho do que realmente é. Mas o tempo impõe um fardo mais pesado aos refugiados palestinos, porque, ao contrário de outras pessoas pobres, lhes é negado o mais precioso e imaterial de todos os bens: a esperança de superar a sua condição. Os refugiados palestinos são condenados à prisão perpétua ao nascerem e, para muitos deles, mesmo um bilhete de loteria premiado não seria suficiente para comprar o direito à propriedade ou educação suficiente para se tornarem advogados ou médicos. A maioria dos 5 milhões de refugiados registados na UNRWA (Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina no Oriente) em cinco países de acolhimento diferentes vivem em condições semelhantes ou piores, permanentemente privados da maioria dos direitos atribuídos aos cidadãos de qualquer país. Há mais de 70 profissões negadas aos refugiados palestinos no Líbano, por exemplo, e mais de 80 delas na Jordânia. Em nenhum dos países eles podem trabalhar nem mesmo como motoristas de táxi, pois isso exigiria uma carteira de motorista e a maioria deles não pode possuí-la legalmente. No Líbano, até os materiais necessários para a construção de uma cabana para refugiados são regulamentados por lei – tijolos e um telhado adequado são demasiado permanentes e, portanto, ilegais.

“Quem nos colocou nesta posição foi Israel – não a Jordânia, nem o Líbano ou qualquer outro país árabe. Os países árabes não nos apoiaram, é verdade, não cumpriram os seus deveres para com os palestinos, mas não quero misturar culpas aqui”, diz outro morador do campo de Gaza, Faraj Chalhoub, de 40 anos, pai de oito filhos.
Esta é mais uma catástrofe quase exclusiva dos palestinos. Dado que a sua expulsão é ilegal ao abrigo de uma série de leis internacionais, e porque tal injustiça nunca foi retificada, alguns países temem que, ao aceitarem os refugiados como cidadãos, estariam a ajudar Israel a “apagar as provas”. Na sua condição excepcionalmente miserável, os refugiados palestinos são os cartazes da sua tragédia, a prova viva dos crimes israelitas e a prova indelével que permanecerá exposta para que todos possam ver até que lhes seja permitido regressar.
“Eu gostaria de poder sentir o cheiro do ar do meu país e morrer”, diz Massioun, de 70 anos, esposa de Abu-Dhubah, ela também usando um pedaço de madeira como bengala, desta vez com um cabo improvisado. Todos os seus irmãos e irmãs vivem na Palestina e estão separados desde 1967. Como todos os refugiados em Jerash, Massioun é vítima do que chamam de Nakbatein, ou duas catástrofes: a sua família foi expulsa duas vezes, primeiro da aldeia de Barbara em 1948, e novamente de Gaza em 1967. Dos mais de 2 milhões de refugiados registrados na Jordânia na UNRWA, há cerca de 120 mil que sofreram os mesmos dois Nakbas, e nenhum obteve a cidadania jordaniana, ao contrário dos refugiados que vieram em 1948.
‘Fazendo o trabalho que Israel deveria estar fazendo’
Para Kathem Ayesh, chefe da Sociedade Jordaniana para o Retorno e Refugiados, manter os palestinos em campos sem quaisquer direitos serve a Israel. “Se mantivermos os palestinos numa situação tão miserável, eles nunca pensarão em regressar à sua terra natal, estarão desesperados para comer e resolver os problemas diários, para ter o essencial para viver. Eles não terão tempo para pensar em seus direitos.” Embora sua teoria faça sentido, não foi o que testemunhei.
Este paradoxo faz parte de um longo e antigo debate. No resto do mundo árabe, não é raro ouvir invectivas contra a Jordânia por “fazer o trabalho que Israel deveria fazer”. Não há dúvida, e é bastante compreensível, de que os refugiados que vivem em campos como não-cidadãos têm uma urgência extra em regressar. Mas o argumento de que a Jordânia pode estar a aliviar o fardo de Israel é tecnicamente equivocado, quanto mais não seja porque os refugiados a quem a Jordânia concedeu cidadania ainda estão registados na UNRWA, continuando a ser considerados refugiados se e quando uma restituição coletiva for implementada.
É verdade que a maioria das pessoas que disseram que não gostariam de regressar à Palestina – e eram muitas – têm passaporte jordaniano. Eles explicaram que não faz sentido voltar e começar uma nova vida lá quando eles têm uma vida plena aqui. Mas eles ainda são refugiados e ainda exigem compensação por todas as coisas que lhes foram roubadas. Para Taalat Othman, professor de física da UNRWA que dirige a Associação de ONGs e Comités Responsáveis pela Defesa do Direito de Retorno dos Palestinianos, “Exigimos o regresso às nossas aldeias, cidades e às nossas terras, que foram ocupadas à força pelos bandos israelitas, e sermos reembolsados por todas as perdas, tanto espirituais quanto materiais.” A associação do Sr. Othman tem mais de 200 representantes nos campos de refugiados.
Apesar do seu estatuto de refugiado, a maioria dos que não querem regressar à Palestina são jordanianos, e podem votar, concorrer a cargos públicos, possuir negócios e não sentem que são tratados de forma diferente. Os números do governo estimam que o número total de palestinos se situe nos estratégicos 49 por cento da população jordaniana, mas números não-oficiais fornecidos por especialistas afirmam que esse número está mais próximo dos 75 por cento, quer estejam registrados como refugiados ou não.
O taxista Mohammad é um deles. Como muitos entrevistados para este artigo, ele prefere não me dizer seu nome completo, explicando em um inglês perfeito que “poderia ser mal interpretado”. Seu pai é de Jerusalém, mas ele nasceu na Jordânia. “Sim, a Palestina é a minha terra natal”, diz ele, “é um sonho. Mas quando penso com razão, o que vou fazer aí? Eu nunca estive lá. Se eu for para a Palestina, serei um estranho. Mesmo com uma casa, eu não iria. Tenho 45 anos agora. Não vou começar uma vida nova de novo.”
Esse sentimento é partilhado até mesmo por pessoas muito politizadas que trabalham na ONU com refugiados, e que são elas próprias refugiadas.
“Este é um porto seguro para nós, palestinos”, diz um funcionário da ONU que prefere permanecer anônimo. “Não me sinto diferente de qualquer outro jordaniano do país. Tenho propriedades aqui e um carro. Meus filhos estão na universidade. Posso viajar; tenho um passaporte. Este país tem sido muito generoso conosco. Uma vez me perguntaram se houvesse um ônibus lá fora esperando por mim e minha família, eu voltaria? Não. Eu não voltaria para a Palestina. Minha vida está aqui. Meus amigos, minha família, tudo; minhas lembranças se você quiser. Eu amo a Palestina. Gostaria de visitar, mas não morar lá.”
Os velhos podem morrer, mas os jovens esquecerão?
No entanto, embora os refugiados de 1948 tenham o luxo de pesar os prós e os contras do acordo hipotético, os refugiados de 1967 não podem sonhar com outra coisa. É difícil imaginar alguém que viva no campo de Jerash em Gaza e que queira ficar onde está. O mesmo pode ser assumido em relação a todos os campos de refugiados que visitei no Líbano: Sabra e Shatila, Mar Elias, Bourj el-Barajneh, Nahr el-Bared. Cenas sombrias se repetem indefinidamente, pontuadas por crianças fofas e felizes que tornam os ensaios fotográficos um pouco menos desanimadores.
Numa das casas em que entrei em Jerash, fui recebido por um casal muito idoso sentado no chão. Dormem, comem e sentam-se todos os dias no cimento frio e úmido. A mulher, que pensa ter mais de 80 anos, cuida do marido cego apesar de ter as costas completamente curvadas para a frente, incapaz de se endireitar. Ela não demonstra muito interesse em uma entrevista e sempre que ouve a palavra Palestina ela soluça. Mas ela aproveitou bem a minha presença, segurando meu braço para que eu pudesse ajudá-la a se levantar do chão e ir ao banheiro. Ela trava essa batalha todos os dias, uma luta constante para superar as necessidades humanas mínimas que realizamos sem pensar. Mas essas dificuldades diárias não diminuem o seu desejo de voltar. Isso apenas o mantém vivo. Ela tentou me contar sobre a época em que ela e sua família foram expulsas, depois que seus vizinhos foram mortos. Mas sua história era interrompida a cada cinco palavras pela sua respiração – as palavras e a respiração não vinham simultaneamente – e entre elas ela gemia de dor, segurando a barriga.

“Os velhos morrerão, os jovens esquecerão.”
Esta máxima foi erroneamente atribuída a David Ben-Gurion, mas quem a disse é menos relevante do que quem a pensa. E muitos políticos israelenses de direita o fazem. Eles esperam que os palestinos não sejam tão persistentes e justos como os sobreviventes e vítimas do Holocausto e os seus familiares foram na procura de restituições e reparações.
Quando se trata de restituição, esses dois povos estão em mundos separados. Ao contrário dos palestinos, os judeus têm sido extremamente organizados e inflexíveis nos seus pedidos de compensação e justiça. Quase 70 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, associações como o Congresso Judaico Mundial ainda exigem mudanças nas leis alemãs para facilitar a recuperação de arte e utensílios de propriedade judaica roubada pelos nazistas. Áustria, Holanda e França já trabalharam nesse sentido, segundo o presidente do WJC, Ronald S. Lauder. Ainda recentemente, em Julho de 2013, a Associated Press informou sobre 1,3 bilhões de dólares pagos pelos bancos suíços aos herdeiros de judeus que possuíam contas bancárias inativas. Centenas de milhares de sobreviventes do Holocausto recebem subsídios mensais do governo alemão. E em Maio de 2013, o governo alemão anunciou que estava a comprometer bilhões de dólares para o cuidado domiciliário dos sobreviventes do Holocausto em todo o mundo. O acordo foi alcançado entre o Ministério das Finanças alemão e outro fundo judaico para vítimas de crimes nazis, a Claims Conference. Uma pesquisa por palavra-chave no site Haaretz (um dos jornais israelenses mais vendidos) mostra uma média de três artigos todos os dias com a palavra Holocausto.
Tal sentido de justiça parece atingir Israel como vítima, mas nunca como perpetrador. Mas a decisão orquestrada de procurar a restituição da Segunda Guerra Mundial tem inspirado as vítimas palestinas da Nakba. Estão a educar-se e a estabelecer novas instituições para preservar a sua história, fazer lobby pela justiça e exigir restituição legal e financeira. Em vez de oferecerem a outra face, é mais provável que os palestinos sigam o Antigo Testamento e exijam olho por olho. Na Jordânia, encontrei-me com os dirigentes de duas associações criadas apenas nos últimos dois anos para a defesa do direito ao regresso. Entre todos os refugiados que entrevistei, nenhum – mesmo aqueles que não estão interessados em regressar à Palestina – está disposto a abdicar do direito à justiça e à compensação. Um obscuro pedaço da história que só agora vem à luz é uma indicação de que o axioma que se pensa ter sido dito por Ben-Gurion pode não ser verdade, afinal: sim, os velhos estão de fato a morrer, mas é pouco provável que os jovens esqueçam.
Descobrindo uma história silenciada
Pedaços ocultos da Nakba estão lentamente a tornar-se conhecimento comum, e a história fabricada está a ser de alguma forma “desfabricada”. Um desses assuntos é o roubo organizado de livros de propriedade palestiniana pelo exército israelita e pela Universidade Hebraica, aqueles a quem Ilan Pappe se referiu como “os saqueadores oficiais”. Milhares de livros foram roubados de casas palestinas por soldados destacados para as aldeias com esse objetivo específico. Esses livros estão agora na Biblioteca Nacional de Israel, em Jerusalém. Ainda com dedicatórias e notas manuscritas, estão todos arquivados sob a sigla “AP”: imóvel abandonado. Essa “propriedade abandonada” está agora sob a supervisão do Custodiante Israelita de Propriedade Ausente, de aparência orwelliana.

Outro pedaço da história que surge discretamente, e também mantido em segredo pelo mesmo departamento, é o caso quase misterioso do confisco de dinheiro e cofres pertencentes a palestinos. Encontrei apenas três estudiosos que estudaram o assunto. Um desses estudiosos é Sreemati Mitter, pesquisador universitário em História do Oriente Médio na Universidade de Harvard, que trabalha em uma dissertação chamada “Uma História do dinheiro na Palestina”. Cautelosa em dar respostas curtas a perguntas que exigem muita qualificação, e afirmando que não quer “qualquer indício de certeza associado a esses números”, a Sra. Mitter divulgou uma tabela que compilou com os números estimados pelos três estudiosos: ela mesma, Michael Fischbach e o falecido Sami Hadawi. Referindo-se a Fischbach como “o padrão ouro”, ela adverte que pensa que ele “subestimou completamente o montante total congelado [por Israel]”. Os números de Sami Hadawi são mais elevados, mas incluem estimativas de cofres confiscados. Mitter acredita que “o número real está em algum lugar entre os dois”.
 (Photo: Paula Schmitt)
(Photo: Paula Schmitt)
Um documento emitido pela ONU em 16 de janeiro de 1950 diz que, “O Governo de Israel declara que não tem intenção de confiscar contas árabes bloqueadas em bancos israelenses e que esses fundos estarão disponíveis aos devidos proprietários na conclusão da paz, sujeito às regulamentações monetárias gerais que possam estar em vigor no momento.”
Mitter diz que, em princípio, “todas as contas bancárias árabes palestinas congeladas foram liberadas após o acordo entre os dois bancos (Otomano e Barclays) e o governo israelense em 1956. Mas, na prática, muitos palestinos, especialmente refugiados, nunca viram um centavo de suas contas. Para onde foi o dinheiro? Ninguém sabe.”
Para o professor Fischbach, o confisco de “terrenos, edifícios, bens domésticos, animais e ferramentas agrícolas, mercadorias em armazéns, fábricas etc., valeu muito, muito mais do que o dinheiro em contas bancárias bloqueadas. […] Os israelenses também disseram que não pagariam compensação por […] bens móveis, carros, estoques de fábricas, móveis domésticos, animais de fazenda etc.
Uma rede de segurança em erosão
Ao longo da minha investigação, aprendi que o nacionalismo une muito menos os palestinos do que o fato de todos fazerem parte da mesma tragédia. Todas essas calamidades individuais, os saques, os assassinatos, os roubos e a completa ausência de reconhecimento por parte do perpetrador são as coisas que realmente unem os palestinos em todo o mundo, e continuarão a fazê-lo enquanto todos forem vítimas de uma injustiça. Isso ainda não foi expiado. É algo bastante evidente entre quaisquer pessoas que tenham sido vitimizadas coletivamente – por mais que um indivíduo tenha superado o seu destino pessoal, ele não pode fechar os olhos às outras vítimas que não beneficiaram da mesma sorte.
TM, uma mulher rica na casa dos 40 anos, casada com um jordaniano e com três filhos, sabe que nunca voltaria para a Palestina, pois toda a sua vida foi feita na Jordânia. Mas a sua vontade de lutar pelo direito ao regresso “não tem a ver com a cidadania que tinha quando nasci, onde vivi, onde nasceram os meus filhos. É sobre a luta, a ocupação e sobre mim, como ser humano, como me identifico com essas pessoas. Você entende? Está no meu coração, é o meu coração.”
Este é talvez o maior erro ainda perpetrado por Israel, não apenas moralmente – até mesmo estrategicamente.
Embora os refugiados originais estejam de fato a morrer, os seus descendentes estão a multiplicar-se. O que hoje é um grupo de mais de cinco milhões de pessoas começou com cerca de 700 mil. De acordo com um documento emitido pela Assembleia Geral da ONU em Outubro de 1950, entre os refugiados estavam “17.000 judeus que fugiram dentro das fronteiras de Israel durante os combates”. Também receberam assistência, alimentos e ajuda, e foram registados na UNRWA, mas foram posteriormente absorvidos por Israel, que sentiu “que a ideia de distribuição de ajuda é repugnante”.
Deve ser repugnante também para os palestinos, já que muitos se recusam a receber a sua ajuda. Mas há muitos deles vivendo em total miséria. De acordo com o oficial de relações públicas da UNRWA, Anwar Abu Sakieneh; a UE, o Reino Unido e o Japão são alguns dos doadores, mas os Estados Unidos foram o maior doador em 2013, com uma contribuição total de mais de 294 milhões de dólares, seguidos pela Comissão Europeia. (mais de US$ 209 milhões). Estas contribuições representaram cerca de 42 por cento das receitas totais da UNRWA para os seus orçamentos regulares e não regulares. Os serviços prestados são educação, cuidados de saúde, universidades, alguma hospitalização e até doações em dinheiro a famílias que antes chamava de “casos difíceis”; mas que agora descreve eufemisticamente como estando “sob a rede de segurança da UNRWA”. Essas pessoas são tão pobres que não conseguem satisfazer as necessidades alimentares básicas diárias. “Damos-lhes uma ração de comida a cada três meses para cada pessoa da família: lentilhas, arroz, óleo, leite, às vezes comida enlatada. E damos uma quantia modesta de US$ 10 por pessoa dessas famílias durante esses três meses. Faz parte do pacote. Dez dólares a cada três meses para cada pessoa da família”, repete Abu Sakieneh. No total, existem 56 mil pessoas sob essa rede de segurança.

Poderíamos viver em paz – talvez até juntos
Embora tenham alguma ajuda para sobreviver, os refugiados dizem acreditar que não têm nenhuma para regressar. Dos mais de 40 refugiados que perguntei “quem luta pelos seus direitos”, a resposta foi praticamente unânime: ninguém. Não confiam na Autoridade Palestiniana e não acreditam que o Hamas tenha qualquer poder real. “Ninguém representa o povo palestino. Abu Mazen trabalha para os americanos. O Hamas não pode fazer nada. Os palestinos se representam, não há ninguém. O Fatah também não faz nada”, diz Chalhoub. Para o Sr. Kathem, a OLP precisa ser reavivada. Outro refugiado no campo de Gaza que não revelou o seu nome disse que Abbas “vendeu os palestinos aos israelitas”. Hani Jaber, um motorista de táxi de 39 anos, refugiado e cidadão jordaniano, pelo menos confia em alguém: “Não sou religioso, mas Khaled Meshaal é um homem lógico, ele é bom. Até agora, Mahmoud Abbas não fez nada por nós, o povo palestino. Não me importa se tenho 48 ou 67 anos”, diz ele, referindo-se aos refugiados como a maioria deles faz, na data do seu exílio. “E nós, as pessoas de fora? Eu não votei. Meu direito como refugiado é escolher meu líder.” Quanto a isso, todos os refugiados parecem concordar: devem ter o direito de voto e de serem diretamente representados.
Todos eles concordam com suas demandas também. Quando questionados sobre qual é o seu principal desejo, partem com a mesma resposta: regressar às suas casas, aos imóveis que possuíam e onde viviam no momento da expulsão. Confrontados com a possibilidade de que talvez seja impossível, eles optam por, pelo menos, viver na sua aldeia e obter uma compensação financeira pelas suas perdas. Na maioria das vezes, as respostas incluiriam o fim de Israel. Mas é aqui que algo bastante surpreendente e muito evidente acontecia, quase invariavelmente. Depois de falar sobre os horrores cometidos por Israel e a necessidade de justiça e, por vezes, de vingança, quase todos, com uma única exceção clara, concordaram que se Israel parasse de “ocupar a nossa terra, de matar e humilhar o nosso povo, de roubar a nossa água, e respeitasse os nossos direitos , poderíamos viver em paz. Talvez até juntos. Essa citação, exatamente como está escrita, foi dita por alguém que preferiu não revelar seu nome por medo de “parecer fraco”. Ele não parecia fraco. Ele parecia, em vez disso, apenas cansado.
No entanto, há uma linha tênue entre estar cansado e ter um pouco de esperança e estar desesperado sem ter nenhuma. Uma visita à escola de arte para crianças no campo de Gaza dá uma boa ideia de como elas se sentem e como os seus filhos se sentirão por sua vez. A maioria dos desenhos mostra crianças sendo mortas por soldados, homens armados mirando uma criança com uma pedra. Havia desenhos de mães segurando seus bebês, outras enxugando as lágrimas na bandeira palestina, uma mulher abraçando uma oliveira. Mas um desenho era emblemático daquele momento em que o cansaço se transforma em desespero, quando a humilhação se torna tão insuportável que se escolhe a honra em vez da vida. O desenho mostrava um menino com o braço levantado prestes a atirar uma pedra. Sua sombra no chão, muito maior que a do menino, não segurava uma pedra, mas uma arma.

Paula Schmitt (@schmittpaula) é jornalista brasileira, correspondente no Oriente Médio, autora da obra de não-ficção, Advertised to Death – Lebanese Poster-Boys , e do romance Eudemonia.