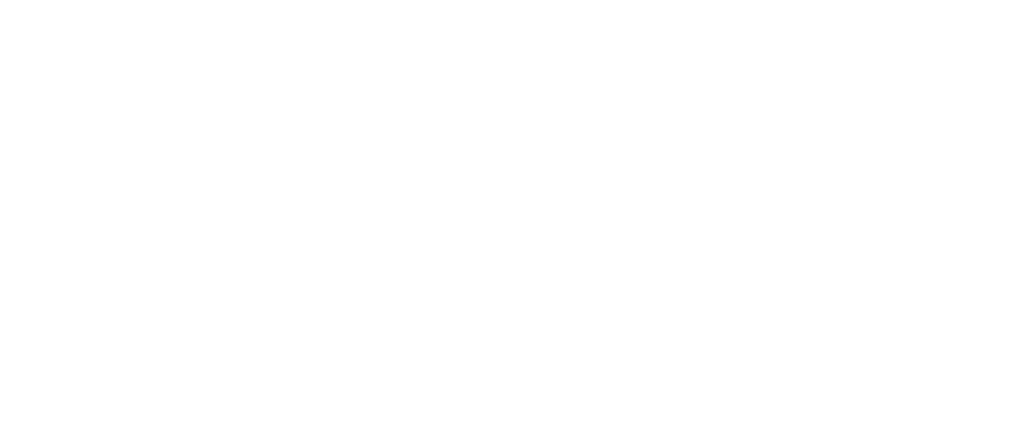Ramallah é uma cidade empoeirada construída, você logo percebe, em torno de um forte. Esta é a Mukataa , ou a “sede”, separada das ruas por muros e torres de vigia. Funcionários do mandato, oficiais jordanianos e as FDI estiveram todos baseados aqui – administrando prisões, tribunais e sucessivas ocupações.
Hoje, é a sede isolada da Autoridade Palestina, e a única parte que se pode ver da estrada é um mausoléu. Cúbico, como a Kaaba em Meca, mas em pedra de Jerusalém, este é o túmulo de Yasser Arafat. Emoldurado por vidro, água e uma guarda de honra, não é digno de nota para um líder do Oriente Médio. Além de uma coisa: os constantes lembretes, por parte dos sinais ou guias, de que este mausoléu é temporário. Todo o edifício, voltado para Jerusalém, é construído sobre trilhos de trem, uma referência simbólica ao que se espera seja a eventual libertação da Palestina e o novo enterro de Arafat no monte sagrado.
Este mausoléu foi inaugurado em 2007 pelo seu sucessor Mahmoud Abbas, o segundo presidente do seu meio-estado, a Autoridade Palestina, e o quarto secretário do seu movimento, a Organização para a Libertação da Palestina. Solene, até mesmo ranzinza, Abbas jurou às multidões naquele dia que “continuaremos o caminho do martirizado Presidente Yasser Arafat para ser enterrado novamente em Jerusalém, que ele amava…”
Mas, apesar da semelhança dos seus objetivos, o contraste entre a forma como os dois geriram o Mukataa não poderia ser maior. Arafat definhou em seu bunker sitiado no porão, entre latas de gasolina e AK-47, com sua intifada em ruínas. Abbas, no seu crepúsculo político, utiliza-o para cumprimentar uma delegação ininterrupta de diplomatas e ONG. A sua Ramallah está inquieta, mas os MacBooks ainda abrem nos seus cafés, enquanto Gaza está em ruínas. Esta disparidade responde à maior questão da política palestina. O caminho a seguir, como Arafat finalmente decidiu, é o da violência – ou o de Abbas, o da negociação?
Inicialmente, eles ofereceram a mesma resposta. Quando Abbas, um refugiado da Galileia, conheceu Arafat pela primeira vez no Qatar, em 1961, os dois tinham a mesma opinião sobre a luta revolucionária: não confiando nos patronos árabes nem engolindo as suas ideologias, os próprios palestinianos tinham de se tornar a principal força da sua libertação. O museu em Mukataa documenta o que aconteceu a seguir. O Fatah, o seu partido, entrou nos campos de refugiados, primeiro lentamente, depois rapidamente, à medida que cartazes anunciavam a chegada da resistência. Apesar das enormes derrotas árabes de 1967 e 1973, surgiu um mito: que da vergonha surgiu a honra, graças à campanha da OLP, que forçou Israel a aceitar que tinha de negociar com os próprios palestinos.
Em 2000, enquanto o Presidente Clinton se preocupava com o seu legado e convocava a fatídica cimeira de Camp David entre as partes, parecia aos diplomatas ocidentais que Arafat e Abbas quase tinham vencido. Exilados em Tunes, depois de Ariel Sharon ter expulsado a OLP do Líbano, a legitimidade que reuniram e a revolta que inspiraram na Primeira Intifada fizeram com que Israel não só tivesse negociado com eles, mas também os trouxesse de volta para governar Gaza e as principais cidades do país. Cisjordânia. Arafat triunfou na rebelião; Abbas, o arquiteto das conversações secretas e do Processo de Oslo, em negociação. Tudo o que precisavam fazer era assinar na linha pontilhada.
Mas não foi assim que pareceu a muitos intelectuais palestinos, que temiam que a OLP tivesse caído numa armadilha. Em Nova Iorque, Edward Said denunciou os Acordos de Oslo como “um instrumento de rendição árabe”. Nos próprios territórios, a corrupção e a opressão que Mukataa parecia personificar significava que Arafat era cada vez mais visto como um ditador e não como um defensor. O Hamas islâmico começou a ganhar sobre o Fatah nacionalista, lançando a sua própria campanha terrorista para inviabilizar o processo de paz. A agitação aumentou.
As lembranças divergem sobre o que aconteceu em Camp David. Diplomatas israelitas e americanos acreditam ter apresentado uma oferta final generosa à equipe palestina, que Arafat vetou, recorrendo em vez disso à violência do Mukataa. Negociadores palestinos como Ghaif al-Omari afirmam que nada próximo dos termos finais foi apresentado, com Arafat indeciso e a sua equipe dividida entre velhos e jovens. Neste relato, Abbas e Ahmed Querei, os mais velhos, tornaram-se intransigentes, suspeitando que os juniores, como Mohammed Dahlan, estivessem a tentar selar um acordo e ficar com o crédito.
O que é claro, porém, é que naquele momento de compromisso, Arafat ficou obcecado por Jerusalém, insistindo que Israel não tinha direitos ao monte sagrado, tal como o Templo do Rei Salomão estava em Nablus. Ele rejeitou a proposta essencial de Clinton: que tudo acima do solo (tanto Al-Aqsa como a Cúpula da Rocha) seria palestino, enquanto tudo abaixo do solo e o Muro das Lamentações seriam israelitas.
Sua motivação é uma questão de especulação. Foram os quatro anos que Arafat passou na Cidade Velha, vivendo no bairro medieval do distrito de Murghabi, destruído por Israel, sob o brilho dourado do Haram al-Sharif? Ou a sensação de que, se não conseguisse libertar o terceiro local mais sagrado do Islã, seria sempre visto como um transigente e não como Saladino? Ou, como acreditava Saeb Erekat, um político palestino e negociador em Camp David, seria uma afirmação moral – que Arafat simplesmente não podia aceitar que Israel tivesse qualquer direito a isso?
A verdade é que, quaisquer que fossem os pensamentos subjacentes ao seu keffiyeh , não havia nada de notável na recusa de Arafat em fazer concessões. O Monte do Templo é tão central para o Judaísmo que muitas vezes se ignora a importância que aquilo a que chamam de Haram al-Sharif é para os palestinos, um povo cuja própria essência de nacionalidade está ligada à ideia de serem os defensores de Al-Aqsa. Mas esta intransigência chocou e enfureceu o Presidente dos EUA. “Vocês estão conduzindo o seu povo e a região para a catástrofe”, teria exclamado Clinton, frustrado.
Camp David falhou em julho. Naquele Outono, em protesto contra a vontade do primeiro-ministro israelita, Barak, de trocá-la pela paz, o velho inimigo de Arafat, Ariel Sharon, decidiu visitar o que chamou de Monte do Templo. Os tumultos eclodiram. E logo ficou evidente que estes eram mais do que dias de raiva. Mesmo agora, as autoridades palestinas continuam divididas sobre como a Intifada realmente explodiu. Um lado sublinha que Arafat estava a ser ultrapassado pelos acontecimentos – a visita de Sharon, os motins repentinos, o linchamento espontâneo – e decidiu concordar com isso, pensando que um pouco de violência significaria melhores condições, enquanto outros vêem-no como um encorajador mais vigoroso, uma vez que começou.
A realidade, no entanto, pouco importava, dado que Arafat decidiria em breve combater a intifada do Mukataa . Em vez de forçar um regresso à mesa de negociações, os seus soldados, como o Tanzim de Marwan Barghouti e a Brigada dos Mártires de Al-Aqsa, lançaram rapidamente atentados suicidas dentro de Israel. Primeiro em voz baixa e depois em voz alta, Abbas opôs-se a isto – vendo a guerra como um desastre para a Palestina.
Morrendo no seu bunker, Arafat foi consumido pela ideia de que o Reino do Rei Salomão nunca esteve na Palestina, mas sim no Iêmen. Em 2003, era óbvio que ele tinha escavado o seu túmulo político. No entanto, poucos reconheceram que ele também enterrou o Estado palestino durante uma geração, prendendo a Cisjordânia no tipo de “governo conjunto” que os estrategistas israelitas agressivos sempre quiseram. Também não estava claro que, ao personificar a resistência palestina, apenas Arafat pudesse ter feito a paz.
Não é preciso visitar os muros de Mukataa para perceber que Abbas é o herdeiro do túmulo de Arafat. Que Abbas, o homem que heroicamente denunciou a violência no meio do desastre da intifada e trabalhou para acabar com ela junto com Israel e os Estados Unidos, não conseguiu escapar ao seu legado. Isto aplica-se tanto ao território da Palestina como à sua expansão. Afinal de contas, Abbas não consegue chegar a acordo sobre uma nova proposta, porque sabe que, ao contrário de Arafat, não tem legitimidade para assiná-la. Aqueles que estavam ao seu lado em 2005 lembram-se de um homem sobrecarregado, aquartelado.
E, no entanto, existe uma vertente de continuidade na política de Abbas, que remonta aos dias inebriantes da OLP no Líbano. A partir de meados da década de 1970, a política palestina ficou dividida entre racionalistas, que viam o futuro envolvendo algum tipo de acomodação com Israel, e radicais, que não aceitavam nenhuma. Arafat esvoaçou e brincou com os dois. Mas Abbas era totalmente racionalista.
Isto permanece verdadeiro até hoje. Racionalmente, ele sabe que nunca teve o poder de liderar uma intifada bem-sucedida contra Israel. Racionalmente, ele sabe que nunca teve legitimidade para assinar um acordo de paz, cujos compromissos que vastas áreas da nação considerariam uma traição. E racionalmente, desde que perdeu Gaza para o Hamas em 2007, decidiu que o melhor curso de ação é simplesmente aguentar.
Esta lógica transformou o Mukataa , do que antes era um símbolo de revolução, num símbolo de um regime árabe autoritário em miniatura: um sistema ligado pela corrupção, onde não foram realizadas eleições desde 2005. A Fatah, por sua vez, é agora amplamente ridicularizada como uma concha vazia – como o partido Ba’ath na Síria ou o antigo bloco oriental. Em toda a Cisjordânia, o sistema é largamente desprezado.
Abbas, no seu crepúsculo, nunca foi tão fraco, mas também nunca foi tão central. À noite, em Ramallah, há protestos, mas as coisas ainda estão calmas. À noite, em Gaza, ouve-se o trovão das bombas. Nunca na história palestina o contraste entre violência e negociação foi tão acentuado. Não mais entre Abbas e Arafat, o contraste é entre a Autoridade Palestina e o Hamas. Isto parece difícil de ver à distância, mas o dia 7 de Outubro foi o início de uma nova guerra para Jerusalém, lançada “em defesa da mesquita de Al-Aqsa”. Chamada de “Operação Inundações de Al Aqsa”, o massacre do Hamas foi apenas a mais recente ofensiva daquela que consideram interminável, para impedir os Judeus de “erigirem o seu alegado templo sobre as ruínas do santuário do nosso Profeta Maomé”.
O Hamas procurou, em 7 de Outubro, não só iniciar uma guerra com Israel, mas também detonar a Cisjordânia. Os seus líderes sonhavam que, com a tomada de reféns em massa, poderiam pôr a sociedade israelita de joelhos e forçar a libertação de todos os prisioneiros palestinos – apoderando-se, de uma só vez, da OLP, a propriedade da causa palestina. As opiniões estão divididas entre os analistas palestinos sobre os seus sucessos. Todos concordam que a popularidade do Hamas está a aumentar na Cisjordânia, com multidões a entoar os seus slogans mesmo no coração de Ramallah. Mas as opiniões divergem sobre se as tensões na Cisjordânia ameaçam realmente ou não Mukataa.
A resposta de Abbas foi em grande parte silenciosa. Racionalmente, ele acredita que a melhor estratégia é evitar uma possível intifada ou uma ação israelita contra ele. Mas por trás desta resposta silenciosa ao derramamento de sangue, os Mukataa acreditam que o Hamas conduziu o povo palestino – com a destruição da cidade de Gaza e agora de Khan Younis – ao maior desastre da sua história desde 1948. Os massacres não são novidade no país, mas nunca antes uma cidade foi arrasada em todo o conflito. “O Hamas entrou numa batalha e o resultado foi a destruição completa de Gaza. Seguir cegamente slogans para satisfazer uma ilusão e o resultado é a destruição do povo palestino.” Estas foram as palavras de Abbas há uma década, mas poderiam ter sido ditas ontem. “Sou responsável pelas pessoas e não permitirei que a sua destruição aconteça novamente.”
Este é o cerne da política palestina. O Hamas acredita que só a violência pode forçar a libertação de Al-Aqsa. Abbas acredita que apenas as negociações e a comunidade internacional podem fazê-lo. O Hamas o vê como um colaborador corrupto. Abbas vê-se como alguém que protege o seu povo daquilo que os habitantes de Gaza chamam de “monstro” israelita e que protege o mecanismo que acabará por criar um Estado palestino. Entretanto, diplomatas ocidentais e árabes passaram a vê-lo como um obstáculo intransigente a qualquer progresso rumo a uma “solução de dois Estados”. A tragédia, porém, é que, com o povo palestino agora tão dividido, o único homem que poderia ter feito a paz em nome de todos eles está enterrado em Mukataa.