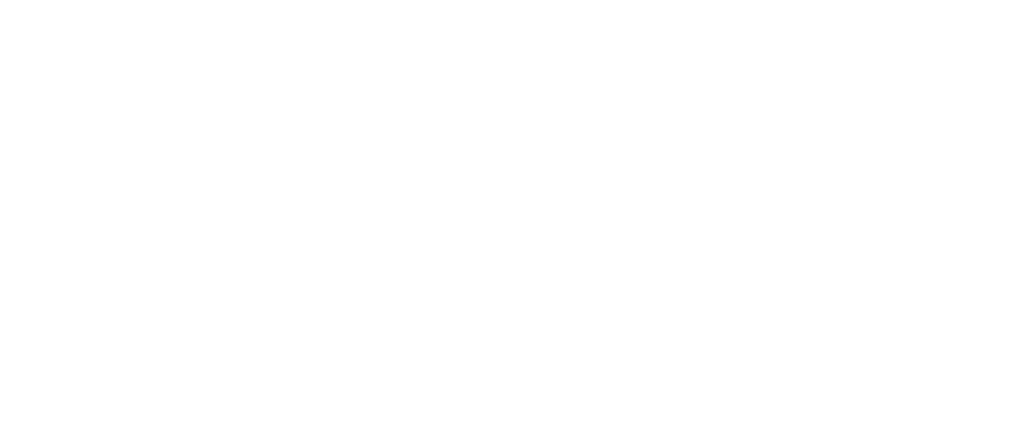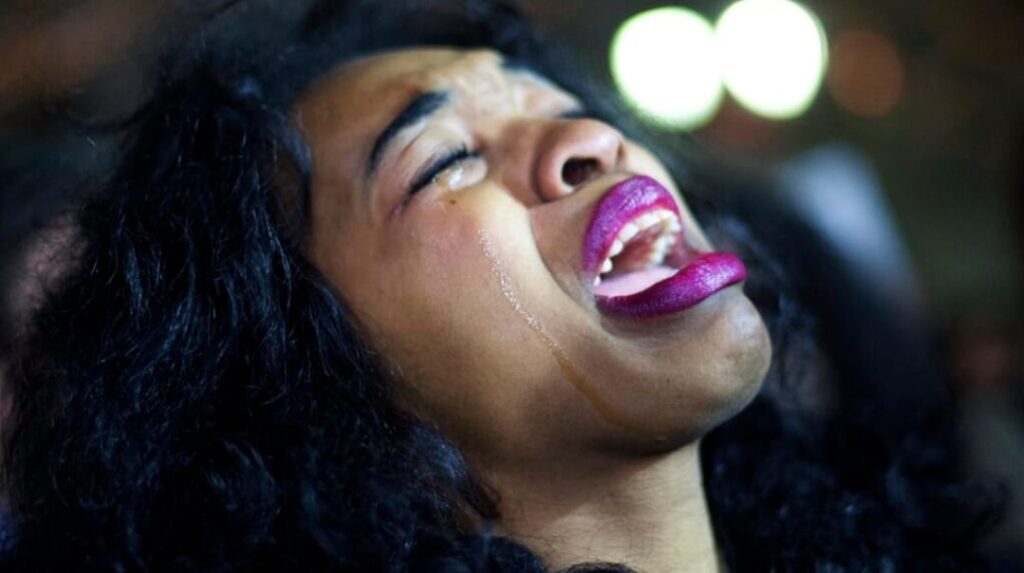Quando meu marido e eu tivemos nosso segundo filho, há cinco anos, eu já pesquisava há muito tempo “ataques os pais”. Eu sabia que, embora a paternidade seja importante, não importa tanto quanto as hordas de “especialistas em paternidade” nos querem fazer acreditar. Mesmo assim, não pude deixar de me perguntar: será que meus filhos me culparão pelas dificuldades futuras? Porque fui muito duro ou muito gentil? Muito envolvido ou pouco envolvido?
Está na moda culpar os pais por estarem “muito ansiosos”, o que criou uma geração de crianças demasiado frágeis para a vida pública. Mas essas ansiedades não surgiram do nada. Foi assim que nos disseram que deveríamos ser. Durante décadas, os chamados “especialistas” venderam teorias pseudocientíficas e soluções mágicas sob a forma de gestão do comportamento parental para curar todos os tipos de males sociais. O bom pai foi beatificado como aquele que está ciente de todos os riscos e age de acordo. E ai do pai “preguiçoso” que não o faz. Ao fazer isso, eles apontaram o dedo diretamente aos pais por quase tudo que dá errado.
Pelo menos desde os anos setenta, é assim que as gerações aprenderam a pensar nos problemas, tanto pessoais como sociais: “O que os pais fizeram?” Na conferência inaugural da Aliança para a Cidadania Responsável (ARC), realizada no mês passado, mesmo os críticos da nossa cultura excessivamente frágil não resistiram a delinear todas as formas como a paternidade contribuiu para a nossa cultura censuradora e iliberal. Telefonando de Nova Iorque, Jonathan Haidt criticou a ascensão da “infância baseada no telefone” e aludiu às suas raízes nos anos 90, quando a “brincadeira livre” diminuiu e os pais paranóicos começaram a pensar que “todo mundo é molestador ou estuprador de crianças”. Ele estava ecoando Coddling of the American Mind , de Greg Lukianoff, publicado em 2018, no qual alertam sobre a ascensão dos “pais helicóptero”.
Falando como agricultores perplexos cujas galinhas voltaram para o poleiro, eles acham difícil imaginar que a sua própria profissão, a psicologia, possa ter algo a ver com a nossa era de fragilidade. Ao longo dos anos, uma volumosa literatura acadêmica explorou as minúcias da experiência infantil para encontrar as fontes dos problemas pessoais e sociais em tudo, desde como os pais alimentam seus filhos (mamadeira ou peito, colher ou “desmame liderado pelo bebê”) até quantas palavras eles dizem antes de uma idade crucial cada vez menor.
Em inúmeros livros de autoajuda e em intermináveis segmentos de talk shows diurnos, eles educaram as pessoas sobre sua vulnerabilidade emocional e as convidaram a examinar sua infância em busca das fontes de seus problemas. Uma ladainha de comportamentos menores ficou ligada a metáforas de toxicidade e a uma série de problemas pessoais e públicos perversos. Esses especialistas pregaram um evangelho de vulnerabilidade emocional e agora parecem chocados com o fato de as pessoas acreditarem neles.
Consideremos a ampla aplicação política de ACEs (Experiências Adversas na Infância). Elaborado a partir de um questionário elaborado em 1998, ele contabiliza experiências adversas na infância para produzir uma pontuação considerada preditiva de resultados futuros na vida. Sob o véu do cálculo científico, identifica a causa de tantas questões que se revelaram resistentes à mudança. E em vez de lidar com questões difíceis como a pobreza e a habitação precária, implicava que os governos poderiam simplesmente intervir para mudar a forma como os pais se comportam. Até Haidt e Lukianoff recorrem aos ACE no seu manifesto por uma vida pública mais robusta, concluindo:
“… existem duas maneiras muito diferentes de prejudicar o desenvolvimento [das crianças]. Uma delas é negligenciá-las e subprotegê-las, expondo-as precocemente a adversidades graves e crônicas… A outra é monitorizá-las e superprotegê-las, negando-lhes os milhares de pequenos desafios, riscos e adversidades que precisam de enfrentar por si próprios para se tornarem adultos fortes e resilientes.”
Portanto, quer você os proteja demais ou os proteja pouco, o problema é você. Além disso, além de ser criticado, entre outras coisas, por subestimar o papel da pobreza e por confundir experiências graves como abuso sexual infantil e não sentir que alguém o considerava “especial”, foram precisamente dispositivos como o questionário ACE que levaram ao uso excessivo de conceitos como “trauma”. Claro, você pode nunca ter vivido em uma zona de guerra, mas some suas experiências ruins na infância e você também poderá ter o cobiçado direito a danos emocionais.
Esta é uma narrativa difícil de abalar. Desde os discursos de políticos que sublinham a importância dos “primeiros três anos” até livros populares como Abolish the Family , de Sophie Lewis , há um ponto de acordo em todo o espectro: Larkin tinha razão. Este é o ethos do determinismo parental: a noção de que o que os pais fazem é uma causa chave que determina o nosso destino pessoal e social.
Não só não consegue captar a complexidade dos problemas que enfrentamos, como também se torna uma profecia auto-realizável, reduzindo o controle que as pessoas sentem que têm sobre as suas vidas. Isso ocorre intencionalmente. A ascensão da perícia parental aconteceu em conjunto com a proliferação geral de outras formas de pseudo-perícia, uma grande parte das quais envolveu a denegrição da capacidade do indivíduo comum e não iniciado de gerir adequadamente os seus assuntos. É uma experiência que surgiu de mãos dadas com um pessimismo generalizado sobre a capacidade dos seres humanos para gerir o seu destino.
Já em meados do século XIX, o enorme otimismo sobre a capacidade do homem para controlar o curso da história que caracterizou a “era do Iluminismo” tinha começado a diminuir. Figuras otimistas do Iluminismo, como Godwin e Condorcet, apontaram impedimentos sociais ao “progresso futuro da humanidade” e aguardavam com expectativa o dia em que, uma vez erradicados, os problemas seriam uma memória distante. No entanto, à medida que muitos problemas sociais pareciam teimosamente resistentes à mudança, cresceu a certeza de que as respostas não estavam no mundo externo, mas no mundo interno do sujeito humano. A sociedade não era o problema. O problema era você e eu.
Como observou Christopher Lasch , no século XX, os reformadores sociais passaram cada vez mais a ver a família como um obstáculo às mudanças sociais que desejavam. Se os comportamentos e as crenças eram agora um impedimento ao progresso, era lógico olhar para a sua fonte – a família e o papel de liderança que os pais desempenhavam nela. Assim, aspectos outrora banais da vida quotidiana passaram a ser referidos como uma “arte”, comunicando uma “concepção de casamento e de família que derivava não tanto da estética como da ciência e da tecnologia… Quando os especialistas em casamento disseram que o casamento representava a arte da ‘interação’ pessoal, eles queriam dizer que o casamento, como tudo o mais, dependia de uma técnica adequada.” Os progressistas, continuou Lasch, previam um dia em que a parentalidade seria profissionalizada e “licenciada” e os “inaptos da espécie humana” “deixariam de reproduzir a sua espécie”.
Embora obviamente nem todos tenham levado as suas conclusões a tais extremos eugenistas, muitos membros de uma nova e crescente “classe do conhecimento” expressaram uma exasperação semelhante com a incapacidade do indivíduo comum de gerir a sua vida. Assim, mesmo uma figura como Bronisław Malinowski, crítico do foco excessivo de Freud na família nuclear, poderia ver “apenas uma saída” para a “crise cultural” do seu tempo, os anos trinta, como “o estabelecimento de um… controle científico de assuntos humanos.” Desde então, esta classe só cresceu, tanto respondendo a tais “crises” como, implicitamente, respondendo ao seu próprio fracasso em realmente resolvê-las.
Parte da dificuldade, então, é que as pessoas comuns não percebem o quão estúpidas são. Eles precisam estar convencidos de sua incapacidade, para que não tenham ideia de que estão conduzindo suas vidas de maneira totalmente errada. Portanto, no início de quase toda nova moda psicoterapêutica, surgem defensores informando o público sobre sua perigosa incapacidade de fazer as coisas corretamente. E assim, uma parte fundamental do evangelho da vulnerabilidade emocional é a pregação constante de que o “leigo” não iniciado está extremamente mal equipado para gerir a difícil tarefa de viver. Eles precisam das pilhas crescentes de livros, aplicativos e até mesmo de “currículos de bem-estar” produzidos pela proliferação de empreendedores terapêuticos cujo negócio é transformar as minúcias da vida cotidiana em um problema. Em tudo isto, a vulnerabilidade tornou-se um ethos sagrado, pregado aos jovens e aos seus pais a cada passo.
Tudo isto significa que dizem a nós, pais, que não podemos simplesmente confiar nas nossas próprias experiências e nas das gerações anteriores. Afinal, foi aí que todos os problemas começaram — com pessoas que simplesmente não sabiam o que “sabemos agora”. O resultado é uma negação completa da agência: os pais são constantemente instados a duvidar de si próprios e a “ouvir os especialistas” – e ainda assim, paradoxalmente, ninguém parece recorrer aos especialistas quando as coisas correm mal.